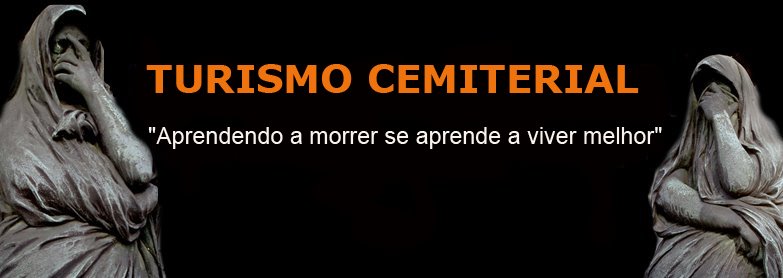Martha Lobo jaz no caixão fechado há poucas horas. Esculpido em motivos austronésios, o caixão repousa no centro do tongkonan, tradicional abrigo ritual com teto em forma de barco. E o tongkonan, com caixão, defunta e tudo, acaba no centro da foto.
Click. Verdade que a faixa com a imagem de qualidade duvidosa da senhora de 84 anos falecida há cinco meses (causas naturais) não compõe bem com o cenário fúnebre – é um toque moderno demais. Mas os turistas, pós-modernos, seguem fotografando, entre goles de vinho de palma, gritos de porcos morrendo e caras de espanto. São turistas da morte. À procura de quê? As covas ou o funeral? Um sorriso surge na janela do caminhão em uma esquina de Tana Toraja, capital da morte na Indonésia. “A rua que segue vai para as covas. A que sobe vai para a cerimônia. Vai uma carona?” Então o rapaz explica, a caminho da festa, que abdicou da agricultura para levar gente aos funerais de caminhão. Turistas são frequentes – os locais não se importam. “É uma honra.”
Tana Toraja vive uma eterna celebração da morte. Seus funerais animistas seguem a tradição de manter o morto em casa, embebido em formol, por meses ou anos, até que a família tenha dinheiro para comprar uns cem porcos, 20 búfalos, 20 quilos de doces, centenas de quilos de arroz e litros de vinho de palma para receber até mil pessoas em três dias de festa. O cortejo então deposita o morto em uma cova aberta na pedra da montanha ou em cavernas onde o passado de morte é lido nas pilhas de ossos. Custa 500 milhões de rúpias indonésias: 100 mil reais. Ou três vezes isso. Mas é como se manda um morto para o outro mundo. “Bem-vindo ao funeral”, anuncia o auto-falante no centro do
rante, área onde são erguidas vinte barracas feitas com
gotong-royon, troca de trabalho entre famílias. “Saiam do caminho”, continua o alto-falante, orquestrando a chegada de centenas de pessoas em vans superlotadas que sobem a trilha de lama. Recebidos com kopi, café não filtrado, eles se enlameiam a caminho das barracas onde passarão os próximos dias. A tradição manda trazer presentes: porcos, dinheiro, tudo registrado – eles criarão um débito à família que recebe. Mas todo mundo morre um dia, então uma mão lava a outra. “É como dizemos que sentimos muito”, diz Supresenar Padavran, de 22 anos, sobrinho da morta. “Aqui as pessoas se conhecem nos funerais”, diz, segurando a mão de um rapaz. “Esse é meu primo. Acabei de conhecer, temos o mesmo sobrenome. Essa é a função do funeral, é nosso evento social.” Os porcos gritam. Alguns, presos a bambus, passam carregados. Horas depois, sua carne é servida assada no mesmo bambu. Come-se com arroz – e a boca aberta, rindo. É dia de festa. Para os torajas, os aluk to mate, ritos da morte, são parte integral do aluk to dolo, rituais para os ancestrais que formam a religião animista. A crença é de que o sacrifício animal – por exemplo, de um búfalo albino (que pode valer até 8 mil dólares, mais que um carro) –, alimenta o morto, ajudando-o a abandonar o cadáver e alcançar o reino do descanso. Quanto mais importante o morto, maior o investimento. Sem o ritual, o espírito fica a vagar pela rotina dos vivos – até atrapalhando as safras de arroz. Hoje os mortos não só não atrapalham como turbinam a economia. Com cerca de 400 mil habitantes, a maioria ao redor de Rantepao (45 mil habitantes), Tana Toraja ocupa 3.205 quilômetros quadrados no coração de Sulawesi, no norte do país. Desde os anos 1970, com o
boom turístico de ocidentais na Indonésia, Toraja tem recebido mais de 50 mil estrangeiros por ano. A economia local (café e arroz), tem se expandido com hotéis, restaurantes e agências de viagem. Nos bares, ex-agricultores com inglês claudicante oferecem tours com segredos das melhores covas. Ganham cerca de 20 dólares por dia. Um balconista faz 45 dólares por mês. Quando o governo decidiu promover o turismo no país, em 1991, o calendário oficial já trazia a “estação dos funerais” dos torajas. Julho seria o “melhor” mês para visitar os dez sítios mortuários a minutos de carro de Rantepao. A estrutura estava pronta. Em Lemo, cravada em um paredão, uma sacada com
tau-taus (efígies de madeira esculpidas à semelhança dos mortos) recebe o visitante literalmente de braços abertos. Em Londa, além das tau-taus, uma caverna guarda caixões apodrecidos. E há as oferendas de
Ke’te Kesu.
A tradição diz que o morto retorna à vida e precisa dos pertences, inclusive roupas, joias e dinheiro – mas os roubos arrefeceram o costume, hoje mais simbólicos. No sítio, entre pilhas de fêmures e caveiras, há uma ossada envolta por cigarros e garrafas de cerveja. Outro caixão leva uma pilha de documentos, diplomas, certidões, um molho de chaves e um ventilador. Questão de personalidade. Por até 350 dólares por três dias de tour, o turista imerge nessa cultura da morte, tira fotos com caveiras e vai ao funeral. Assim a morte virou business – o que é devastador para uma cultura tão localizada, como escreve a antropóloga Kathleen Adams.
O turismo reiventou a cultura da morte de Toraja, diz Adams, “renegociando” seus símbolos no “mercado étnico”. Se antes os tongkonan eram restritos aos rituais, hoje em todo canto surgem casas com tetos pontiagudos (que a prefeitura financia em nome do turismo). Nos sítios, ossos têm sido empilhados para criar composições à moda “trem do terror”. Barracas de artesanato vendem tau-taus em qualquer tamanho, pequenos caixões, pulseiras de caveiras. Se o turista não compra, o sorriso se vai.